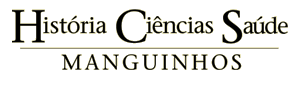Maio/2014
Marina Lemle | Blog de HCS-Manguinhos
Fotos de Roberto Jesus Oscar | COC/Fiocruz
“Vladimir Herzog tinha como princípio a luta pelos meios pacíficos e pelo pensamento. Entendia que a luta armada não era o caminho contra a ditadura e filiara-se ao PCB acreditando que o partido não aderira a ela. Como intelectual, fazia críticas ao partido. Este homem de pensamento e discussão é que foi levado ao Doi Codi de São Paulo e morto sob tortura em 25 de outubro de 1975.”
O relato do jornalista Audálio Dantas comoveu o público de cerca de 80 pessoas que assistia o seminário “Judeus, militância e resistência à ditadura militar”, realizado em 21 de maio no Instituto de História da UFRJ, no Centro do Rio. Autor do livro As duas guerras de Vlado Herzog – Da perseguição nazista na Europa à morte sob tortura no Brasil, que venceu a última edição do Prêmio Jabuti (categoria não-ficção) – o jornalista participou da mesa-redonda “Brasil em tempos sombrios” no evento promovido conjuntamente pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos do Programa de Pós-graduação em História Social da UFRJ e o Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz.
Dantas lembrou que quando se soube da morte de Herzog, o Sindicato dos Jornalistas, que presidia, imediatamente responsabilizou as autoridades e organizou protestos, do qual participaram dezenas de jornalistas judeus. Ele destacou o papel do rabino Henry Sobel, que não aceitou a versão oficial de que o jornalista teria se suicidado e deu ordens para que fosse enterrado dentro do cemitério, e não às margens, onde se enterram os suicidas.
O rabino também compareceu ao culto ecumênico realizado em 31 de outubro na Catedral da Sé, apesar de ter sido procurado por dois oficiais do exército, que recomendaram que não fosse, por ser estrangeiro. Mas ele sentia sua responsabilidade: “O silêncio é aquilo que possibilita o sacrifício da vítima. Estarei lá porque esse é o meu dever”, disse. O culto reuniu cerca de 8 mil pessoas.
“Sobel representou os judeus que estavam no sindicato e nos protestos. Outros quatro rabinos receberam a ordem de não participar e acataram. No culto ecumênico, disse: ‘Estou aqui como rabino não porque foi morto um judeu, mas porque foi morto um homem’. Ele representava uma a parcela de pessoas da comunidade que estava decidida a participar da resistência”, contou.

O jornalista Audálio Dantas e Paulo Elian, diretor da COC/Fiocruz
Apesar do silêncio de figuras importantes que prevaleceu naquele instante, José Midlin, que era secretário de Cultura, também não se intimidou diante das pressões que sofreu no episódio. Segundo Dantas, Herzog foi a primeira vítima do regime militar não sepultada em silêncio. Ele acredita que o número de presentes ao culto ecumênico poderia ter sido maior se não fossem as 383 barreiras policiais erguidas para impedir o acesso ao Centro.
“Talvez isso tenha sido providencial, pois a linha dura do regime ameaçava um massacre, caso o culto se transformasse em manifestações. Terminou pacificamente, por determinação expressa de Dom Paulo Evaristo Arns e minha, como presidente do Sindicato, para não dar pretexto aos militares. Esta demonstração de civilidade teria levado ao renascimento do movimento sindical operário do ABC paulista”, afirmou.
Dantas diz não acreditar que o assassinato de Herzog estivesse relacionado ao fato de ele ser judeu, como já ouviu. “Evidentemente não foi isso. Mas os executores dos assassinatos mencionavam com frequência o caso do ‘jornalista judeu’ Vladimir Herzog. Havia uma tentativa de se dar a ele esse papel de judeu – identidade que ele nunca negou, e foi um cidadão brasileiro exemplar”, enfatizou.
O jornalista observou que existia uma percepção difusa sobre os judeus, que representariam uma elite financeira. Um oficial do Doi-Codi teria questionado: “Judeu comunista?”
Ano passado, 37 anos depois da morte de Vladimir Herzog, foi retificado o seu atestado de óbito, corrigido de suicídio para tortura na prisão.
Ao encerrar, Dantas afirmou que a instauração da Comissão Nacional da Verdade, nos 50 anos do golpe, vem produzindo algo muito significativo, porque a ditadura parecia esquecida. “Se a Comissão não tem poder de punir, tem o papel de trazer o debate amplo sobre o período. A verdade sobre a morte de Rubens Paiva agora tem detalhes vindos até dos autores do crime. Mas os militares ainda se negam a abrir os arquivos, o que tem sido pura leniência dos governantes brasileiros. A presidente tinha que exigir a verdade”, ressaltou.
Na Argentina, violência explícita e ruptura; no Brasil, censura e frustração

O professor de História da UFRJ Carlos Fico fez uma comparação entre a violência das ditaduras na Argentina e no Brasil, seus impactos e implicações. Segundo ele, na Argentina, eleita “caso emblemático” pela literatura mundial, já havia luta armada antes da deposição de Isabelita Peron. O país então virou palco de uma brutalidade com grande visibilidade pública e propagada como necessária pelos militares, com apoio de parte da sociedade.
“A contabilidade de mortos na Argentina era diária, cotidiana e visível, sem falar nos campos de concentração que existiram. A Argentina expunha os mortos”, disse. Segundo o professor, o clima de “sociedade do medo” também ocorreu no Chile, mas, no caso brasileiro, o uso da violência como categoria chave analítica não é correto, já que o alcance da luta armada era menor e a violência era ocultada, com os jornais censurados.
“A sociedade brasileira não viveu a experiência do contato direto com a violência como a argentina. O cotidiano lá afetava as famílias, as ruas. É claro que houve violência, inclusive com especificidades, mas a categoria analítica da violência não dá conta da complexidade do processo histórico da ditadura militar no Brasil, onde o longuíssimo processo de transição para a democracia, que começou em 74, se deu planejado pelos militares”, afirmou.

Carlos Fico
Fico acrescentou que a transição no Brasil foi marcada pelo pacto da anistia, que perdoava militares e civis pela violação dos direitos humanos, como uma “auto-anistia”, e pela eleição indireta do primeiro civil, que nem chegou a exercer o poder.
“Se construiu no Brasil não uma memória traumática da violência como na Argentina, mas uma frustração, principalmente nas esquerdas, pela impossibilidade de punir os responsáveis pela violência. Na Argentina, houve a guerra das Malvinas e o julgamento de chefes de estado, das juntas militares. Nada mais espetacular que uma ruptura! Aqui, a transição foi pactuada, inconclusa pela impunidade e não marcada por uma ruptura, o que gerou frustração”, explicou.
De acordo com o professor, esta frustração explicaria a demora da primeira medida de reparação: a Comissão dos Mortos e Desaparecidos, criada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso dez anos depois do fim da ditadura – medida modesta e mesmo assim difícil de obter, que se desdobrou em outros eventos da Justiça de transição e recentemente na Comissão Nacional da Verdade.
“Isso só foi possível depois da chegada à Presidência de pessoas que haviam combatido o regime militar, como FH, Lula e Dilma. A frustração marca a esquerda brasileira e na memória da sociedade brasileira não houve trauma. Por isso a questão não mobiliza a sociedade tanto quanto a quem milita nos direitos humanos”, concluiu.
Fico alertou para uma tendência de entronização do confronto entre luta armada e repressão e dos protestos estudantis como fato emblemático – um confronto heroico romântico e vitimizador. “É simplista e o historiador não pode abraçar isso. A pesquisa histórica sobre temas traumáticos tem que lidar com um impasse teórico e de viés ético-moral-político. É preciso ter acolhimento pelas vítimas, mas não se pode sucumbir ao discurso da vitimização, que impede de lidar com o fato de que nenhuma ditadura se mantém sem sustento e apoio de alguma parte da sociedade. Setores significativos da sociedade não só apoiaram como deram o golpe também. Se não formos críticos não vemos isso. Temas tabu e memórias vitimizadoras.precisam ser enfrentados pela historiografia”, defendeu.
O professor acrescentou que a leitura simplificadora é recorrente e muito difícil de lidar, apesar de compreensível. “Esse tipo de memória é comum, como na ocupação nazista na França. Não é uma peculiaridade brasileira”, disse. Para ele, com o distanciamento proporcionado pelos 50 anos do golpe, questões mais espinhosas e delicadas começam a ganhar espaço e é possível refletir melhor sobre elas, saindo da memória confortável para um maior aprofundamento e crítica.
Outro tema tabu que precisa ser enfrentado, segundo Fico, é a eficiência da resistência através da luta armada, que teria retroalimentado a repressão, atrasando o fim da ditadura. “O discurso prevalecente advoga que a luta armada teria sido fundamental para a retomada da democracia no Brasil. O projeto da abertura foi concebido e conduzido pelos militares tal e qual, inclusive na eleição indireta – que também é um tabu”, argumentou. E concluiu:
“O historiador do tempo presente tem obrigação de produzir conhecimento o mais objetivo possível, mas ele também está ligado ao mundo dos vivos, portanto também envolve uma questão política, ética e moral.”.
Em seguida, a professora Maria Paula Araujo, também da UFRJ, abordou as relações entre história e literatura testemunhal a partir de testemunhos escritos e orais sobre traumas como o holocausto e ditaduras latino-americanas.
A mediação do debate foi feita pelo coordenador da mesa, o professor Paulo Elian, diretor da Casa de Oswaldo Cruz.
Em contraposição à fala de Carlos Fico, Maria Paula defendeu que as organizações de esquerda buscaram alargar os limites do projeto de transição e que a ação dos movimentos populares também influenciou a transição para a democracia. Ela discorda de que teriam sido só os militares que fizeram a transição e citou testemunhos disso.
Audálio Dantas também enfatizou o papel das multidões nas ruas pelas eleições diretas: “A abertura se deu pelo povo que foi à rua. Não se pode negar a importância do seu papel na redemocratização.”

Na abertura, a coordenadora do Niej/PPGHIS/UFRJ, Monica Grin, a coordenadora do PPGHCS/COC/Fiocruz, Simone Kropf, e o professor e pesquisador do PPGHCS/COC/Fiocruz e do Niej Marcos Chor Maio enalteceram a parceria entre os programas de pós da UFRJ e da COC/Fiocruz que possibilitaram o evento.
Simone Kropf sublinhou que a etnicidade e o recorte de particularidades de grupos na intervenção social e política é um tema caro ao programa da Fiocruz, que suscita reflexões sobre o que é o conhecimento e a produção intelectual.
De acordo com Marcos Chor Maio, o seminário atingiu seus objetivos ao refletir sobre as relações entre comunidade judaica, sociedade brasileira e ditadura militar. Abordou ainda a atuação de militantes de esquerda de origem judaica engajados direta ou indiretamente contra a violação de direitos através de atos simbólicos, atos de resistência ou através de denúncias. O debate sobre atores, ideias e instituições revelaram aspectos específicos da dinâmica comunitária judaica no contexto do regime autoritário.
Leia mais:
Judeus que resistiram à ditadura eram secularizados – Cobertura da parte da tarde do mesmo seminário.
Como citar este post [ISO 690/2010]:
Resistência de judeus à ditadura é tema de debate. Blog de História, Ciências, Saúde – Manguinhos. [viewed 28 May 2014]. Available from: http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/resistencia-de-judeus-a-ditadura-e-tema-de-debate/