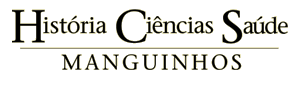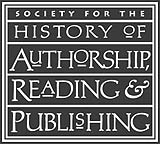Lisboa, 27 de janeiro de 2021
Isabel Amaral *

Isabel Amaral
Muito se tem escrito e publicado desde 2020 sobre esta pandemia que nos assiste e nos paralisa ainda. Como defende Marcos Cueto, as epidemias surgem sempre para que recordemos e pensemos a vulnerabilidade da espécie humana perante a doença e o poder (Cueto 1997), e estabelecem entre si uma teia de relações complexas e nem sempre transparentes.
Em poucos meses, este novo coronavírus atravessou fronteiras e transformou a humanidade num quadro dantesco, como aquele que se apresenta hoje pelo mundo, e que em Portugal atingiu neste momento o ponto mais crítico, até ao momento. O número médio de óbitos por Covid-19, que ronda os 300 por dia, é praticamente o mesmo número de óbitos no país em circunstâncias normais. Estes números não são apenas uma estatística, não são apenas resultado de uma previsão matemática de evolução epidémica, são pessoas, com dignidade, direitos, suporte e razão de ser de uma economia de mercado assente nos pressupostos da globalização e do neoliberalismo. Quo vadis?
Será que os labirintos da história, particularmente desde o século XIX, nos permitem refletir sobre o momento atual, que os mais pessimistas classificam como uma era coronoapocalíptica, onde o conceito de vulnerabilidade se associa a uma crise de confiança na verdade científica, e a uma crise sanitária, a uma crise econômica, política e humanitária?
Embora o seculo XIX tenha sido considerado o século das grandes epidemias, tendo por base a criação de regulamentações internacionais como ferramenta de controle de fronteiras, como disso são exemplo as Conferências Sanitárias Internacionais, iniciadas em 1851, os Estados nunca reagiram de forma uniforme às epidemias. Sempre existiu uma clivagem entre os pressupostos mercantilistas e economicistas por um lado, e os sanitaristas, por outro, e que recrudesceram de importância no século XXI, face à complexa equação das redes de economia mundial.
Os grandes focos epidêmicos de peste bubônica, tifo exantêmico e varíola sugiram na cidade do Porto, na alvorada do século XX (Almeida, 2012), uma cidade liberal, mercantil e em pleno desenvolvimento industrial e comercial, que reagiu violentamente contra a autoridade da capital em associação com a imprensa, e que conduziu Ricardo Jorge, médico municipal da cidade, a um quase linchamento público, que o obrigou a sair apressadamente da cidade para se fixar em Lisboa.
Aqui erigiu um programa sanitário nacional que, com base numa sólida convicção científica, assumiu o papel de grande reformador sanitário do país, assente nas exigências das teorias pasteurianas no combate às doenças infeciosas e contagiosas, num quadro de depauperamento da economia nacional e de fome. Se por um lado permitiu a criação da Direcção-Geral de Saúde em 1911 e a reorganização da política assistencial higienista e sanitária, por outro colocou a nu as suas carências agravadas pelo impacto da Grande Guerra, agravando os conflitos profundos de natureza política, ideológica e social, que dividiam a população portuguesa, e que se vieram a refletir na gripe espanhola, gripe pneumônica ou simplesmente pneumônica, como ficou conhecida em Portugal (Sobral, 2009; Ferreira, 2020).
Mesmo em Lisboa, onde se improvisavam conventos e escolas, os recursos eram manifestamente insuficientes para controlar a epidemia que seguia as mesmas medidas utilizadas nas epidemias anteriores. Algo nesta epidemia se assumiu como diferente: a crença de que apenas a vacinação poderia conter a propagação do vírus, por um lado, e a abertura ao desconfinamento social (teatros, cinemas etc) para evitar a escalada do pânico e do isolamento, que atingia sobretudo os mais desfavorecidos: “Se todas as classes pagaram o seu tributo, ele pesou mais pesadamente sobre os mais humildes: os horrores da epidemia juntaram-se aos da miséria” (Jorge 1919, 25).
Após a IIª Guerra Mundial, com a ausência da investida de epidemias, o equilíbrio das contas públicas protagonizou uma métrica do desenvolvimento social, científico e sanitário que culminaria com a formação de um Estado democrático, a nova República. A Constituição de 1976 traduziu-se em novas políticas sociais; na intervenção clara do Estado na definição da política de saúde, no planeamento e na execução; e, intervenção face às assimetrias regionais e sociais, com o reconhecimento do direito à saúde por parte de todos os cidadãos, que culminaria no domínio da saúde pública, conduziu à criação do Sistema Nacional de Saúde (SNS), universal, geral e gratuito, por António Arnaud, em 1979.
A revisão da constituição de 1989 alterou esta redação de um “serviço nacional de saúde” “gratuito” para “tendencialmente gratuito”. A Lei de Bases do Sistema de saúde português de 1990 imputa ao Estado a responsabilidade na prestação de cuidados de saúde às populações. A saúde passa a ser da responsabilidade não só do Estado, mas também de cada indivíduo, e das iniciativas sociais e privadas. A assistência deixava de ser uma concepção de assistência médico-sanitária, predominantemente caritativa, para evoluir para um sistema integrado de gestão envolvendo o setor público, o setor privado e o setor social, resultado de uma política neoliberal que advogava a redução de custos assistencial em prol do lucro, o que acabaria por banalizar outras “epidemias” do século XX como a Aids, o Sars, o H1N1 e agora a Covid-19, que nos paralisa.
Portugal conhece neste momento a sua pior fase da doença, que atinge a sua terceira onda. Se na primeira o país era considerado modelo, pela eficácia no controle da sua evolução, hoje é um dos piores países na estatística mundial. A primeira fase de contenção realizou-se em estado de emergência. A segunda fase alternou entre estados de calamidade e emergência, com divisão dos municípios por zonas de risco segundo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Esta nova fase volta a impor o estado de emergência. Os hospitais de campanha e novos espaços para internamento multiplicam-se a cada hora que passa, os doentes são transferidos para hospitais de retaguarda quando os hospitais locais estão lotados, equaciona-se neste momento a possibilidade de se transferirem até doentes para todos os países, mas…como e onde existem recursos humanos para cuidar de todos estes doentes, com dignidade? A taxa de mortalidade a que assistimos é apenas resultado do aumento exponencial do número de casos e do consequente internamento?
A sequência genética do Sars-CoV-2 foi publicada em 11 de janeiro de 2020 e desde então a corrida pela descoberta de uma vacina eficaz no controle da doença produziu mais de uma centena de candidatas. Com a única esperança de controle pandêmico centrado na vacinação, que resposta a ciência, a indústria, o Estado e uma vez mais os profissionais de saúde poderão dar para que a imunidade de grupo à escala planetária seja uma realidade para todos os habitantes deste planeta? Quais os custos? Que garantia na eficácia? Quais as prioridades? Quais os critérios? Que justiça?
Há autores que utilizam a história comparativa seguindo Charles Rosenberg, no seu artigo fundacional “What is an Epidemic” (Rosenberg, 1989), para estabelecer um paralelo entre esta pandemia e a gripe pneumônica. As duas pandemias estão ligadas à mobilidade e à aglomeração humana: não é o vírus que faz a epidemia, mas o homem: o vírus é sedentário, precisa de um hospedeiro para sobreviver. O que muda com esta epidemia à escala global? Tudo muda, começando pelo próprio conceito de pandemia. Pandemia de origem etimológica grega (πανδήμιος) significa “de todo o povo”. Ora, até a própria Organização Mundial de Saúde foi e vai evoluindo e alterando as normas de contenção da Covid-19, em função da relação dicotômica virulência versus mortalidade. Na verdade, não é apenas uma doença epidêmica à escala global, mas uma doença planetária. Trata-se da luta de um vírus e da espécie humana pela sobrevivência neste planeta; trata-se de uma estratégia humana que passa pela contenção global da evolução da doença, não assente na noção de verdade científica, numérica, mas na noção de incerteza, insegurança e risco (Smith,2009). O otimismo pós-guerra de que muitas doenças infecciosas foram “conquistadas” deu origem a novas preocupações com o risco após a epidemia de Ébola, que expressa a impossibilidade da espécie humana controlar a natureza (Preston, 1995).
A emergência ou reemergência de novas doenças fizeram emergir o medo da globalização. A saúde pública move-se em busca de novos padrões de vigilância epidémica e de modelos de contenção… uma ilusão de segurança.
Nenhum dos referenciais anteriores de controle epidêmico, em circunstâncias idênticas (desconhecimento do agente etiológico, tratamento e prevenção), fornecem dados inequívocos (nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista científico/saúde pública, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista ambiental).
A moldura comportamental humana assente no individualismo liberal de Robert Nozick não se coaduna com a luta pela sobrevivência numa cama de hospital ou num leito familiar, ou quando o sistema de saúde colapsa e alguém terá de escolher quem morre. Os mortos deixam de ser números abstratos quando têm nomes que conhecemos, quando se distribuem em contentores frigoríficos em zonas recônditas dos hospitais, à espera de terem um funeral com dignidade.
Em suma… a vida é o conceito central desta complexa equação que se almeja resolver sobre a atual pandemia de Covid-19 hoje, pois encerra um novo conceito para a segurança dos Estados – Nação no qual a saúde pública desempenha um papel central, como nunca desempenhou na história. A reflexão sobre a vida não só convoca as estratégicas de sobrevivência da espécie e da sociedade humana, como as agendas da globalização, da sustentabilidade e do Antropoceno, como nos obriga a questionar que lugar a espécie humana ocupa neste planeta. Será a pandemia uma crise do tempo ou estaremos nós a viver um tempo de crise? Quo vadis?
*Isabel Amaral é professora associada do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCSA) e Coordenadora do Programa Doutoral em História, Filosofia e Patrimônio da Ciência e da Tecnologia, FCT NOVA, co-coordenadora do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia (CIUHCT) da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT NOVA) e professora associada convidada da Faculdade de Ciências Médicas (NMS NOVA).
Referências:
JORGE, Ricardo. La Grippe. Lisbonne: Imprimerie Nationale. 1919.
SOBRAL, José; LIMA, Maria Luísa et al. (eds). A pandemia esquecida: Olhares comparados sobre a Pneumónica (1918/19). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2009.
FERREIRA, João. A Gripe Espanhola de 1918. Universidade do Minho: Casa de Sarmento. Centro de Estudos do Património. 2020.
ALMEIDA, Maria Antónia “O Porto e as epidemias: saúde e higiene na imprensa diária em períodos de crise sanitária, 1854-56, 1899, 1918”. Revista de História da Sociedade e da Cultura, 12: 371-391. 2012.
CUETO, Marcos. El regreso de las epidemias: salud y sociedad en el Perú́ del siglo XX. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 1997.
ROSENBERG, Charles. What is an epidemic? AIDS in Historical Perspective. Daedalus, 118 (2): 1-17. 1989.
SMITH, Andrew. Contagion and Chaos Disease, Ecology, and National Security in the Era of Globalization. Cambridge: MIT Press. 2009.
PRESTON, Richard. The Hot Zone: The Terrifying True Story of the Origins of the Ebola Virus. New York: Anchor; 1st edition. 1995.
Como citar esse post:
Como citar este post:
AMARAL, Isabel. A Covid-19 em Portugal: quo vadis?. Blog de HCS-Manguinhos. Publicado em 03 de fevereiro, 2021. Disponível em http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/a-covid-19-em-portugal-quo-vadis/
Veja os especiais sobre a Covid-19 nos Blogs de HCS-Manguinhos nacional e internacional: